Resumo:
A proposta do texto envolve um projeto geral: conhecer para sermos livres (nível especulativo) e sermos livres para conhecer (nível mais prático), no âmbito das discussões sobre História e Teoria do Conhecimento. Envolve o conflito, ou a contradição, entre: condição necessária (sine qua non – sem a qual não – negativa, onde se identifica que tal coisa é necessária de determinado fenômeno, por que se retira a condição e o fenômeno deixa de acontecer, o que não significa que se a condição for reposta bastaria para o fenômeno também voltar a acontecer – uma parte das condições suficientes) e condição suficiente (com qua sic – ou com a qual sim, fenômeno positivo, mas uma coisa pode ser suficiente e nem por isso necessária- ou seja, contém alternativas); episteme (científico, condição ou conhecimentos necessário e universal, que se mantém inabalado a despeito da variação das circunstâncias) e gnosis (conhecimentos particulares ou não científicos). Todas estas discussões estão imersas em uma pergunta principal: existe uma conexão entre a recusa do conhecimento e a servidão voluntária?
A partir destes apontamentos, percebemos haver uma relação tensa entre conhecimento e liberdade, mas especificamente no que tange aos interesses sobre a cientificidade da História. A ciência da História, bem como no Direito ou em outras áreas das Ciências Humanas, explicita esta relação, entendida como contingência, em um constante trabalho de redefinição. Ou se redefine História, ou se redefine Ciência, ou se redefine Liberdade (contingência). Desconstruindo o paradigma estruturalista, podemos ainda conceber a História como ciência a partir de uma teoria do conhecimento? Ou melhor, poderíamos exprimir uma epistemologia da História e ela manteria, assim, seu estatuto de ciência no sentido de ser um conhecimento sobre uma realidade? Para fundamentar o edifício de nossa investigação, começamos por Platão e o seu Mito da Caverna. Passaremos por Tertuliano e a Epístola de Paulo aos Coríntios. Também por Descartes e o método da dúvida, Levi Strauss e seus trabalhos antropológicos sobre sociedades indígenas. Concluiremos com o método dialético (Aristóteles-Hegel-Marx), e a possibilidade do conhecimento.
Parte 1: Realidade e Aparência
A definição platônica de justiça está no livro IV: justiça é “cada um cumprir a tarefa que é sua”. Esse princípio é a base do argumento central da sua obra “A República” e se deriva de um questionamento sobre as dificuldades que envolvem a busca pelo conhecimento, tema principalmente retratado na alegoria da caverna. O texto, porém, pressupõe um problema: Mito da caverna é uma expressão que está em desuso. Alegoria é uma categoria mais recorrente tendo em vista que se refere a uma representação, a algo que já foi dito. Karl Popper, filósofo da ciência, disse que a República de Platão representa uma sociedade fechada, sem liberdade. A República envolve uma proposta que unifica os dez livros: defender a ideia de justiça já apresentada aqui. Porém, este texto de Platão não é um texto dogmático, e esta ideia é, na verdade, discutida. Ela, entretanto, foi apresentada apenas no livro 4 (depois de preparar o leitor), ao contrário do que geralmente acontece nos textos filosóficos que apresentam sempre a proposta no início. Esta proposta a qual nos referimos é que é possível pensar a noção de justiça de maneira unificada, ou seja, em todas as experiências.
Platão propõe que uma sociedade justa é uma sociedade organizada e estruturada, fazendo gestão não só de coisas, mas também de pessoas. Ao contrário do que hoje se pensa de gestão como sendo uma administração com pessoas. Para Platão a gestão deve estar presente na sociedade (estrutura), e na vida dos indivíduos. Nos gregos não há uma ideia muito bem formada de sociedade, mas de cidade. Uma cidade, então, deve ser bem administrada de acordo com este princípio de justiça presente no primeiro ponto. Platão não diz que o melhor governo é o governo dos filósofos, como é comumente assimilado, mas do conhecimento (sofia). Naquele contexto histórico específico, quem se dedicava ao conhecimento eram os filósofos. Estes deveriam ser os responsáveis pela gestão da cidade seguindo o princípio de que cada um deve cumprir a tarefa que é sua. Conhecimento, então, deve ser o princípio da gestão. Quem se dedica ao conhecimento, deveria, neste contexto, ocupar-se da gestão. Outras pessoas fariam outras tarefas, não se dedicando ao conhecimento nem à gestão: a cidade precisa de trabalhadores. Para justificar esta ideia ele utiliza este princípio: o seu trabalho, sua produção, é mais competente se você se dedica a uma atividade só. Tarefa e atividade, aqui, entendidas como trabalho.
A República contém também muitas análises sobre a injustiça. Uma das origens estaria ligada a uma confusão de objetivos. Ou seja, as pessoas, de maneira geral, tendem a buscar as mesmas coisas, e isto gera injustiça (especificamente por questões materiais pensadas por outros filósofos, inclusive os modernos como Karl Marx). Para Platão, uma cidade justa é possível com uma sociedade harmônica no que se refere às suas atividades. A analogia ou alegoria da caverna está relacionada a isto. Na alegoria da caverna, Platão está discutindo sobre a classe dos filósofos (ela não é uma analogia para representar tudo, equívoco muito comum nas leituras da obra. Vestígio disto é que, se fosse assim, ele poderia ter começado com esta analogia no princípio). Nela se pode analisar educação, psicologia, questões ligadas às dificuldades do conhecimento em geral. A alegoria, porém, está a serviço da explicação das tarefas dos filósofos. A mesma ideia de justiça é aplicada na cidade e na alma: a justiça na cidade gera uma sociedade perfeita com governo central, produtores (pessoas que trabalham) e auxiliares (correspondem às pessoas que cuidam da segurança, por exemplo, e outras atividades terciárias). Quando as pessoas estão passando por dificuldades, tem a tendência de se unir e, assim, formam as cidades nas sociedades primitivas; mas quando estão já satisfeitas, começam as desavenças, na ausência de leis, valores… Têm-se a guerra.
Já a Justiça na alma gera algo de imaterial e dá identidade ao sujeito. Sujeito este composto de pelo menos três coisas: razão (faculdade), desejos (algo natural), e emoções. Uma pessoa justa, neste sentido, seria uma pessoa equilibrada, que consegue dar vazão, que deixa viver suas partes de acordo com a função de cada uma.
A alegoria da caverna, então, não foi inventada do nada. Ele a cria para plastificar toda esta ideia discutida. Assim, o texto em si começa refletindo sobre o conhecimento. O conhecimento para os gregos está diretamente envolvido com as pessoas dos filósofos, aqueles que se propõem a estudar tudo o que há, em termos gerais. Filosofia seria, neste sentido, o conhecimento “conectado” das coisas, aquilo que consegue reunir a cultura disponível, permitindo, assim, a este “profissional”, entender a realidade. A ideia de filósofo, aqui, não é a mesma de hoje. O segundo detalhe importante é que a alegoria da caverna fala de pessoas que estão em uma posição cognitiva a muito tempo: não são crianças, são homens adultos que vêem as coisas, a realidade, da mesma forma à muito.
As correntes e grilhões, entretanto, são questões de debate: não se sabe ao certo o porquê das pernas e pescoço. Pode ser que o pescoço seria um aprisionamento total, permitindo ao preso observar apenas um cenário, como uma pessoa que não tem como ver de outra maneira, ou seja, está presa aquelas imagens, não tendo nenhuma forma de liberdade, nem de sentimento. Outros autores disseram que essas correntes no pescoço estão querendo dizer que o desejo da pessoa está voltado a apenas uma imagem. É uma questão muito especulativa.
O fato é que os prisioneiros não fazem distinção entre o nome de algo (que não é objeto real, mas uma sombra), e o objeto real. E esta questão gera um problema interessante no que tange à teoria da História: não estariam os prisioneiros (se entendidos aqui, num exercício de projeção, como historiadores) na verdade preocupados mais com as sombras do que com os “objetos reais”? E as sombras são sempre representação de algo real? Assimilamos aqui que entender algo é buscar entender o Ser desse algo. Não apenas o significado, mas também saber se uma coisa existe, se o Ser da coisa se opõe ao Ser de outra coisa. O texto conclui que conhecimento é o descobrir o Ser das coisas, e que esta seria a melhor atitude do ponto de vista cognitivo. Há esta noção de inteligibilidade em Platão: o que ele fala sobre as ideias não é muito diferente de outros filósofos. Ideias são sempre noções reais para ele. Platão acredita que a justiça existe, como ideia.
Parte 2: Teologia e Conhecimento
Esta discussão sobre o conhecimento também está presente em Tertuliano e na própria Epístola de Paulo aos Coríntios, uma carta-livro da Bíblia Sagrada e reivindicada por filósofos medievais que discutem sobre o mesmo tema. Aqui se pode acrescentar um elemento sobre a reflexão do conhecimento: sem um certo modo de vida (modus vivendi) é impossível meditar profundamente, e sem essa meditação é impossível adquirir o método. Esta discussão é também epistemológica, ou seja, sobre a natureza do conhecimento. Mas, para além disto, é uma discussão ética, sobre o modo de vida que, na segunda carta aos coríntios, é caquético.
Tendo dito isto, partimos para o fato de que esta carta é escrita para cristãos já convertidos. Assim, se insere numa discussão entre o discipulado de Paulo, que passou por esta comunidade e depois manda a carta tentando apaziguar questões internas, e Apolo. Da primeira epístola aos Coríntios, “sabedoria do mundo e sabedoria cristã” (capítulo 1 versículo 17), decorre-se que Paulo apresenta um método de anunciar o evangelho como sendo próprio a um evangelista. Demonstra, assim, a oposição entre um certo tipo de linguagem e sabedoria e um outro uso da linguagem e da sabedoria que, na verdade, à luz da sabedoria humana, parece loucura (ao passo que a sabedoria humana parece loucura a sabedoria divina). Isto porque a fé não requer sinais. Os sinais são demonstrações para a imaginação. Esta sabedoria da qual trata Paulo, dá demonstrações para a razão e para o intelecto. A fé, entretanto, prescinde de demonstrações, sejam mediadas por sinais, sejam baseadas por deduções lógicas. Os milagres e prodígios são sinais, servindo como prova. Paulo diz que a Fé, então, não requer provas, isto é, não requer milagres. Este texto nos permite refletir sobre o vínculo existente entre o pensamento de senso comum de que “a ignorância é uma benção”, e a adesão voluntária à condição de um “escravo”.
O mito da caverna de Platão, já discutido aqui, liga claramente a ignorância à escravidão, e a liberdade à sabedoria. Esta mesma discussão está presente em Galileu, para quem a caverna que estamos imersos e presos é nosso próprio corpo, e as sombras são o que ele chama de qualidades secundárias (aprofunda a compreensão do mito da caverna com a compreensão da recusa que o homem simples do dia a dia tem em aceitar que o que chamamos de mundo não tem valor qualitativo em si, mas sim os efeitos que este mundo produz em nós não estão presentes nestes objetos, mas em nós mesmos). Na patrística latina há duas matrizes: uma que vem de Paulo aos coríntios, e uma que vem de Paulo aos atenienses (atos dos apóstolos – esta produz toda a tradição medieval de teólogos que, embora com alguma resistência, aceitavam finalmente, serem chamados de teólogos filosofantes, considerando sempre a filosofia como subordinada a teologia, como, por exemplo, Santo Agostinho no século IV e São Tomás de Aquino no século XIII). Em Tertuliano mesmo percebemos que crer não é um ato do intelecto, mas da vontade. Onde não há alternativa, onde não há escolha, onde o assentimento se segue necessariamente das premissas postas, o que temos é a dedução. Quando o assentimento se segue de indícios, de pistas que atestam não a necessidade, mas a plausibilidade ou possibilidade, temos outro elemento. Esta seria um dos matizes da recusa do conhecimento. Entendemos também que nem toda recusa do conhecimento é absolutamente irresponsável. Tertuliano nos mostra como nem tudo é conhecer, e como, do ponto de vista que se coloca fora do conhecimento, o próprio conhecimento precisa surgir como algo pessoal, particular.
Para nós a sabedoria está além da ciência, e a transcende, mas nunca está aquém. A sabedoria, neste sentido, não é ciência. Então, Paulo aos coríntios é uma linhagem que deságua em Tertuliano (Credo quia absurdum – creio por que é absurdo), e Paulo aos atenienses é uma linhagem que deságua em Agostinho (Acreditar para entender). Neste sentido, os gregos se relacionam com a sabedoria, os judeus com os milagres (sinais) e os cristãos da linhagem que vai até Tertuliano se relacionam com a fé na cruz de Cristo para a solução de todos os problemas humanos.
Explicando melhor: para os gregos, tendo como fundamental a filosofia de Aristóteles, a ciência é o conhecimento da causa das coisas. Exemplo disto é a famosa alegoria do Todo. Todo homem é Mortal, Sócrates é Homem, logo Sócrates é Mortal. Esta alegoria remete a três fases que contém três termos, cada um desses termos aparece duas vezes. O termo Homem é chamado por Aristóteles de termo médio ou intermediador (por que ele é a causa da reunião dos outros termos na conclusão). Para ele, a demonstração explica por que Sócrates é mortal. Neste sentido, Sócrates é mortal porque é Homem, e todo Homem é Mortal. Isto é, a humanidade é a causa que liga Sócrates à morte. É nisto que a demonstração corresponde à ciência. No entender de Aristóteles, você tem ciência de algo quando você é capaz de justificar a causa em algum dos 3 sentidos. Pode ser causa material, final ou formal. Não há ato de vontade. Se você aceitou a primeira premissa, e aceitou a segunda, você já aceitou a terceira. Não há espaço para escolha neste discurso silogístico. Neste sentido, tanto gregos quanto judeus se relacionam com algo que os força a conceder o assentimento. Seja pela sabedoria, seja pelo sinal.
Tertuliano diz que isto não pode ser confundido com fé. A fé é um ato de vontade. Crer é dar assentimento sem que nada te obrigue a isto, e é por isto que há mérito. Justamente por que algo é absurdo, ou seja, não há convite ao assentimento, é que a fé se manifesta. A fé, em Tertuliano, tem a ver com uma renúncia ao modo demonstrativo ou indicativo de adesão. Em oposição a esta matriz de Tertuliano, temos a matriz de Agostinho, para quem acreditar não é oposto a entender, mas acreditar é condição para entender. Acreditar não é algo que se dá num campo heterogêneo da razão. É possível articular razão e fé, por isso Agostinho cria uma Teologia. Não há Teologia para Tertuliano, tendo em vista que tudo que se disser sobre Deus que faz sentido simplesmente demarca o campo onde Deus, enquanto categoria filosófica, não se apresenta.
Aqui há a caracterização da fé como uma primeira adesão, mas sem que esta crença interdite o entender. Da matriz de Tertuliano também nasce uma razão religiosa hostil aos doutos, hostil ao conhecimento mundano, hostil ao homem letrado e a uma valorização do homem simples, do homem médio (para não falar medíocre), do homem pouco estudado, do homem que é iletrado, também presente na cultura popular brasileira nos dias de hoje. É um elemento cultural que, grosso modo, faz parte do contexto histórico de eleição do atual presidente Jair Bolsonaro como representante deste “tipo” de homem comum, e de outros fenômenos históricos presentes na atualidade como o retorno a discussão sobre o formato da Terra mesmo com tantos elementos científicos que já esgotaram este assunto. Lembre-se do vídeo em que Silas Malafaia o apresenta na Igreja usando justamente estas palavras: “D-S escolhe as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias”.
Uma passagem muito importante de Paulo aos coríntios é justamente onde ele produz uma espécie de inversão, encontrada também nesta cultura popular atual: D-S escolheu, segundo o texto, as coisas fracas para enfraquecer os fortes, as coisas loucas para confundir as sábias, e as vis para superar as coisas de valor. Podemos chamar a matriz de Paulo aos coríntios de matriz Misóloga, no sentido de ódio ao conhecimento ou razão.
Parte 3: Reconstruindo o Edifício do Conhecimento.
Há uma tentativa de resolução do problema sobre a possibilidade do conhecimento em Descartes e seu método da dúvida, uma tentativa de reconstrução do edifício do conhecimento em novas bases. Desta vez, mais sólidas e seguras. Para buscar uma certeza, o filósofo parte da dúvida. Seria, em outros termos, necessário um empreendimento de dissolução dos preconceitos e do edifício do conhecimento que se consolidaram desde a antiguidade clássica, principalmente a partir de Aristóteles. A filosofia cartesiana admite estar correto a premissa de que os sentidos são o começo do conhecimento, mas acrescenta que eles não são o princípio, ou seja, a base sob a qual se fundamenta o conhecimento.
O que falta em Aristóteles, diria Descartes, seria o reconhecimento dos sentidos como primeira forma de absorver conhecimentos sobre a realidade, mas não de justificá-la ou de atribuir-lhe razão. Duvidar de tudo, entretanto, seria uma tarefa gigantesca e, logicamente, impossível. Isto leva Descartes a argumentar que não seria necessário duvidar de todo o conhecimento um a um, sendo completamente eficaz “atacar” as bases desde edifício, isto é, daquilo que foi colocado como se fosse o fundamento de todas as coisas, de todas as opiniões. Este método apresenta uma dúvida metódica pois não duvida a esmo, erraticamente, mas, ao invés disso, discrimina o que se deve duvidar primeiro, e, a partir daí, segue uma sequência racional. É como se houvesse uma dependência mútua das opiniões, partindo do pressuposto de que esta dependência é heterogênea, isto é, existem aquelas opiniões fundamentais das quais muitas outras dependem. É, também, uma dúvida hiperbólica, tendo em vista que não é natural, mas artificial e exagerada: no argumento do sonho é demonstrado que aquilo que já nos enganou, que seja uma única vez, (no caso, os sentidos) não pode ser passível de confiança integral no processo de conhecimento. A dúvida hiperbólica supera, deste modo, a objeção da inexigibilidade qualitativa anterior. Duvidar, e em última instância, pensar, é existir. Em ato, no presente. Isto porque o momento da dúvida, ou melhor, do pensamento, é o único momento em que se pode afirmar com verdade que se existe.
Essa verdade independente não é um dado, mas ela se realiza a cada vez em que este fenômeno do pensamento acontece. É preciso realizar o ato para que ele seja verdadeiro. A partir desta reconstrução, seria verdadeira e genuinamente possível conhecer. Há, seguindo esta linha de raciocínio, algo de Descartes que aparece elevado em Espinosa e seu Tratado da Emenda do Intelecto: um modo de percepção que procura ter a certeza que o cogito de descartes tem que ser vazio como ele. O tema geral do tratado da emenda do intelecto é claramente epistemológico, para justificar nosso interesse aqui. Isto é, o caminho pelo qual ele conduz da melhor maneira ao verdadeiro conhecimento das coisas. Porém, este mesmo tema é, em Espinosa, ético, ao contrário de Descartes que está preocupado, mais especificamente, com a fundamentação das ciências naturais, ou da física. A preocupação de Espinoza é, na verdade, demonstrada de maneira literal no título de sua principal obra: a Ética.
Neste sentido, o filósofo tenta fazer com a Ética o que Descartes se propõe a fazer com a física. Fazendo uma leitura do texto concluímos que há um modo de conhecer que faz com que a mente, em certo sentido, se uma com a natureza inteira, dentro da teoria da totalidade e da unidade de Espinoza que, ao romper com Aristóteles (para quem toda essência é comum e para quem não há ciência do particular, mas apenas do universal) acreditando que existe uma essência particular. Essa essência particular é a ciência (conhecimento necessário e universal) intuitiva (do singular concreto), aquela que busca o universal concreto, ou o universal realizado em sua concretude. Neste sentido, a essência de uma coisa não são as propriedades coextensivas, mas sim omodo como esta coisa é construída, sua História. Ao invés de entender a definição como uma formação de predicados, a entende como uma regra construtiva. Com o entendimento de como as coisas funcionam, ou de como elas atuam na realidade, se tem um mundo perfeito organizado, mas incompreensível. Isto existe na distância entre o saber e o desejo, ou o interesse. Os objetos de conhecimento seriam, na verdade, resultado do trabalho do sujeito cognoscente, e não com uma propriedade fora e independente deste. O conhecimento, então, é, na verdade, uma prática, reafirmando a teoria da unidade. As oposições entre Natureza-História, Corpo ou Matéria e Espírito, Razão e Emoção, derivações da epistemologia kantiana, são inexistentes e se tornam falsas, na leitura de Espinosa.
Parte 4: Conhecimento e servidão.
Levi Strauss ao estudar sociedades indígenas em seus trabalhos antropológicos apresenta um problema ao explicar a eficácia de certas práticas mágicas. Este problema se explica, mais profundamente, neste outro: um feitiço é uma Causa no mesmo sentido em que, por exemplo, um tiro ou uma cirurgia são Causas respectivamente da morte ou cura de um homem? Para responder, começaremos com a etimologia: eficácia é a capacidade de produzir efeitos. É, portanto, ela que qualifica uma Causa. E Efeito é a consequência a partir de algo ou alguma coisa. Neste sentido, ele conclui que um feitiço tem eficácia, ou seja, pode ser uma causa de morte, por exemplo, de uma determinada pessoa.
Há sim uma causalidade mágica em Levi Strauss, mas ela apresenta uma especificidade. Não é a Causa no mesmo sentido que apresentado acima, da eficácia física do tiro ou da cirurgia. Esta eficácia é simbólica, e acontece a partir de mecanismos psico-fisiológicos. O elemento mediador é a crença: a partir do momento em que há crença, o processo fisiológico se desencadeia. O fato de acreditar tanto que o feitiço tem poder, faz o organismo do enfeitiçado o matar, num processo psicofisiológico. Em suma, o feitiço só tem o poder que damos a ele, assim como o tirano, em Labocci e seu Discurso sobre a Servidão Voluntária, só tem o poder que damos a ele, numa dialética: se o tirano só possui poder por que damos a ele e esse poder nos oprime, por que é que damos?
Cabe aqui, refletirmos sobre a dialética como uma forma de compreensão da realidade. Ela é efeito e causa de sua própria causa. Uma causa gera um efeito e vice-versa, ao mesmo tempo. Este momento, da explicação da dialética, não é um instante no tempo, mas uma certa situação de forças. A exposição da dialética é, porém, temporal, mesmo que o fenômeno não o seja. O próprio Hegel utiliza na explicação da dialética esta divisão em momentos. Cabe se perguntar se ele faz isso por que acredita no fenômeno desta forma ou se é só um problema de linguagem-didática. Abre-se espaço, assim, para a discussão sobre o tempo linear ou cíclico. No tempo cíclico-círculo todos os pontos são perfeitamente equivalentes entre si em relação ao centro. O ponto de partida é o ponto de chegada (princípio e fim nele e por ele o perímetro se completa), símbolo da homogeneidade do lugar geométrico destes pontos. No entanto, a figura geométrica (se é que podemos chamar assim), privilegiada por Hegel, é a “espiral das espirais”. Se olhada de cima, a espiral parece ser um círculo. Mas olhando-a de lado, nesta analogia, quanto o ponto chega ao seu análogo há uma diferença qualitativa. Se volta para o lugar de onde se partiu, mas com esta diferença. Voltar é sempre partir para um novo lugar. Esta espiral é a síntese do tempo linear com o tempo escatológico. Existe, então, uma frase que o próprio Hegel considera ser a frase originária da dialética em toda sua compreensão: Panta Rei (tudo flui), de Heráclito de Éfeso.
Parte 5: A dialética do conhecimento.
Voltando um pouco no tempo, a dialética nasce de uma experiência cultural relativamente simples. Era um jogo, ou um passatempo dos atenienses. Eles eram até ridicularizados por outros gregos por serem fissurados pela intelectualidade, pois até seus jogos tinham este caráter. Havia, neste período, um “craque” tanto na posição de perguntador quanto da de respondedor, próprias da dinâmica específica do jogo que não será discutida aqui: Sócrates. Este filósofo percebeu neste jogo de feira, neste entretenimento coletivo, mais do que um divertimento. Ele viu um método pelo qual seríamos capazes de conhecer as essências das coisas. O que é das coisas. Aquilo que Aristóteles depois chamará de causa formal.
Através de uma aparente “briga” entre perguntador e respondedor, ambos se refinam e se elevam, ao mesmo tempo em que se vêem obrigados a se despir dos conhecimentos puramente aparentes, de seus preconceitos, da crença de que certas coisas contingentes seriam necessárias, de que certas coisas particulares seriam universais. Seria um combate amistoso entre as almas. O próprio Sócrates passa a se comportar pública e politicamente desta forma. Sócrates, praticando a dialética, revela os preconceitos de quem não se dispunha a professá-los, isto é, as autoridades da sociedade em que se encontrava, e por isso foi acusado de corromper a juventude, segundo nos mostra Platão escrevendo diálogos reais que Sócrates possivelmente teve.
Para Platão, dialética é uma teoria da unidade e está constituída por basicamente dois elementos: saber perguntar e saber responder. Saber perguntar está estilísticamente relacionado à Sócrates, enquanto o saber responder é a contribuição filosófica de Platão à dialética. Neste sentido, a dialética é primeiro negativa e, logo após, positiva. E a possibilidade do saber está contida no não saber, e unicamente neste, da mesma forma com que o Ser está contido, dialeticamente, no Não-ser. E, na verdade, este não-ser existe, isto é, ele não é o “nada”, mas é ele também um Ser. Ser e não-ser se define simultaneamente. Em outras palavras, o Ser, fundamento da dialética de Platão, é um ser que permanece em seu estado, ainda que seja confrontado com seu contrário, e, na verdade, depende dele. Em si se encontra o não-ser. Esta dialética é, portanto, não uma relação de negação, mas de alteridade.
Já Aristóteles se opõe ao espírito matematizante de Platão e valoriza o múltiplo e o sensível, próprio da observação, da empiria, graças a ter estudado um pouco de medicina com seu pai -um dado biográfico. A noção de dialética recebe uma deflação em Aristóteles. Ele possui, como nos lembra a obra Academia de Platão de Rafael Sanzio, pintor renascentista, um espírito de moderação. Esta dialética passa a significar a lógica do puramente provável, do meramente possível. Não é mais uma arte de purificação do espírito que o prepara para o acesso às verdades inteligíveis, como em Platão. Tampouco é destrutiva que simplesmente aplaca as pretensões juvenis de conhecimento. É algo mais modesto, mais mundano, e tem a ver com a lógica do debate. É conhecida agora, com seus alunos (os peripatéticos), como uma lógica da discussão que nos ensina a diferenciar o que é necessário, provável, possível e impossível. Envolve técnicas argumentativas que a tornam muito próxima do que nós chamamos de retórica, mas altamente regrada. A dialética em Aristóteles é, portanto, facilmente confundida com o sofismo, tendo em vista que o campo em que ela atua é o campo do diálogo, do discurso e da discussão.
Voltando a noção de dialética em Hegel, que se distancia das tradições gregas e abre as portas para uma nova concepção, constatamos que é formada em sua juventude nos estudos sobre religião. A questão principal de Hegel é: como uma religião da emancipação, da liberdade, da pobreza, da renúncia, da vida comunitária se torna uma religião de templos de ouro no Vaticano, uma religião do Estado, uma religião conservadora? Ou melhor, como um movimento de vanguarda, de contestação, rebelde, se torna conservador, autoritário, rígido? A cisma protestante é vista por Hegel como uma renovação do espírito do cristianismo originário. Hegel passa a entender que este padrão de comportamento histórico que afetou o cristianismo pode ser encontrado em inúmeros outros processos históricos. Esta seria a base da dialética. Não é mais um comportamento meramente humano, é um comportamento da História, e possui, também, um traço lógico. No Hegel maduro (da enciclopédia, das ciências filosóficas e das ciências da lógica), esse padrão de comportamento histórico se eleva a uma estrutura lógica. Tomemos dois termos opostos: o Universal (tudo) e o Particular (a própria palavra parte diz que o particular não é tudo). Definidos assim, são termos unilaterais. Colocam-se externos, polares e dicotômicos um ao outro. Se um não é o outro, o universal não é o particular. O universal se torna o particular, assim, justamente por não o ser. Pois, se o universal não é o particular, ele não é tudo, e a definição de particular é aquilo que não é tudo. Então se ele não é o particular, ele é, retoricamente, particular. Isto é uma contradição. No desenvolvimento histórico da dialética há sempre a ideia de elementos que se opõem, sejam teses, pessoas, etc., que mantém uma certa tensão ou oposição entre elas e a dialética, aqui, funciona como um sistema capaz de desfazer esta oposição. Em Hegel, ela é justamente a lógica da oposição.
Neste sentido, segundo o italiano Pietro Rossi, a filosofia de Hegel é considerada a conclusão inevitável e final do desenvolvimento do idealismo Kantiano, e, entretanto, como uma espécie de síntese do idealismo subjetivo de Fichte e o idealismo objetivo de Schelling. O procedimento dialético encontra sua máxima expressão no início da ciência da lógica de Hegel. Ele é justamente a unidade do diverso através da sua própria diversidade. O filósofo diz que a primeira proposição dialética é a de Heráclito, “Tudo Flui”, isto por que ela já é uma síntese do diverso que, na palavra, flui, escoa, e na palavra tudo, é contido.
O que está sendo dito é algo semelhante a: tudo sempre muda. Mesmo que “Sempre” seja o contrário de “Mudança”. A única coisa fixa, nesta proposição, é o fluxo; e a única coisa certa é a incerteza. Este espírito que desde Sócrates (“Só sei que nada sei”) nos ensina a exercitar na arte das oposições buscando primeiro uma purificação “espiritual”, e finalmente em Hegel uma lógica dos processos históricos, têm justamente em seu núcleo a compreensão de que a diferença é uma relação recíproca. Essa oposição fictícia entre o tirano e o tiranizado (recorrendo novamente ao exemplo do texto de Laboecci), entre o senhor e o escravo (em Hegel), entre o feiticeiro e o enfeitiçado (em Lévi Strauss), se revela não como uma oposição, mas como uma unidade. Elementos contrários se assemelham não apesar da contradição, mas através da contradição.
Referências:
PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990.
LA BOETIE, E. Discurso da servidão Voluntária. Tradução: Leymert Garcia dos Santos, Comentários: Claude Lefort, Pierre Clastres e Marilena Chaui.
GILSON, E. A filosofia na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
ABBAGNANO (org). La evolucion de la dialectica. Barcelona, Ediciones Martinez Roca, 1971.
LEVI-STRAUSS, Claude. O feiticeiro e sua Magia. Disponível em: https://www.netmundi.org/home/wp-content/uploads/2019/04/L%C3%89VI-STRAUSS-C.-O-feiticeiro-e-sua-magia.pdf. Acessado em 17 de dezembro de 2019 às 16:42.
AGOSTINHO. O livre Arbítrio. São Paulo: Paulus 1995.
CHAUI, M. Introdução à História da Filosofia V1. São Paulo: Companhia das letras – Edição Revista e Ampliada, 2006.
TERTULIANO, S. Apologeticus. Cartago. www.angusdei..cjb.net 2005
BÍBLIA, A. T. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. In: BÍBLIA. Sagrada Bíblia Católica: Antigo e Novo Testamentos. Tradução: José Simão. São Paulo: Sociedade Bíblica de Aparecida, 2008.
GALILEI, G. Ciência e Fé – Org. Trad. E Notas: Carlos Arthur R. Nascimento. São Paulo: Ed. Unesp, 2009.
NOVAES DE REZENDE, Cristiano. Notas Sobre os Instrumentos Científicos em Galileu. Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/fmc/article/view/25738. Acessado em 17 de dezembro de 2019 às 16:56.
HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito, 4ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
MARX, K. e ENGELS, F. A ideologia alemã: critica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauere Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas 1845-1856, São Paulo: Boitempo, 2007.
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política, 10ª ed., São Paulo: Difel, 1985.
___________. Grundisse: Manuscritos econômicos de 1857 – 1858 Esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2001.
___________. Manuscritos econômicos-filosóficos, São Paulo: Boitempo, 204.
CAVALCANTE, Vítor Valente. O papel do fetichismo na formação da consciência humana: materialidade e idealidade em Karl Marx. Programa de Pós graduação em História – UFG, 2016.
Disponível em: repositório.bc.ufg.br acessado em 17 de dezembro de 2019 às 17:05.





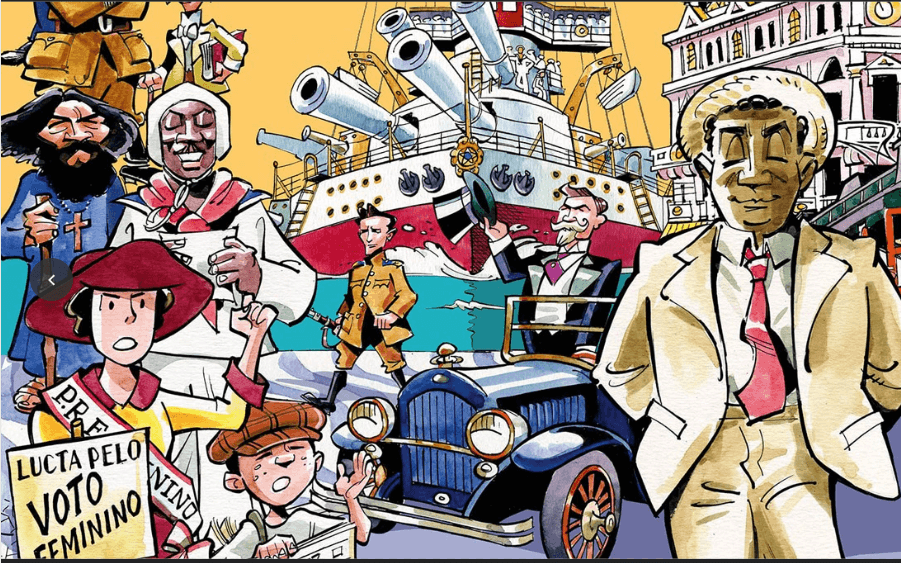





ótimo texto
Como sempre trazendo reflexão!
Texto Excelente 👏